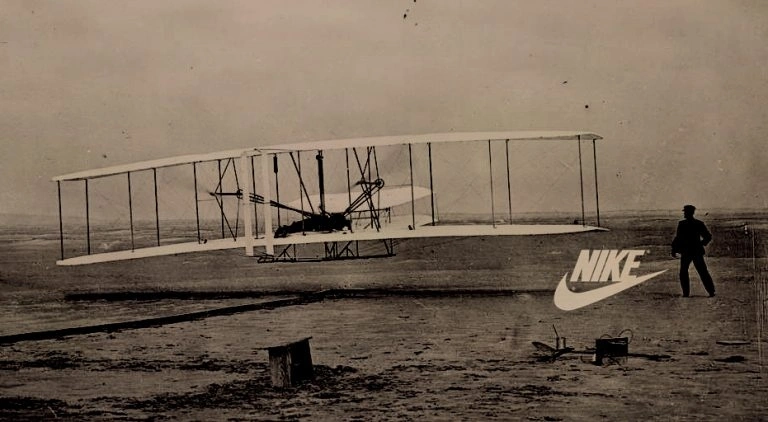Mudança de voz: do Boca Doce ao The Economist


Existem marcas que gritam, outras que sussurram, cantam, as que nunca se calam e as que dizem exactamente aquilo que deviam dizer, nem mais nem menos, para nos atingirem no sítio certo: a cabeça ou o coração.
Longe de teorias e mais perto do instinto, que é onde gosto de estar, o brand voice é criar esta voz da marca, do nome a todas as suas formas de discurso, capaz de traduzir a sua personalidade, chegar ao público e até ficar na memória. Por mais irritante que isso possa por vezes ser.
Olhando para trás, consigo ver que as vozes que me conquistavam foram mudando. E isso quer dizer que os conteúdos, a percepção de marca e o propósito que comecei a ver na comunicação também foram mudando. De criança a adulto. De estridente a grave.
O Boca Doce é o primeiro anúncio de que me lembro. A simplicidade da música e o avô e o neto mais felizes do mundo bastavam para que aquele fosse, definitivamente, o melhor pudim de todos.
Mais de 35 anos depois ainda sei a música de cor – tal como se estivesse com os meus irmãos, os três em fila no sofá, já de pijama, a cantar. Era a voz da alegria e do conforto de estar em família.
O tempo foi passando e a música mudando. Já não interessava só aquilo de que eu gostava mas também aquilo de que os outros gostavam.
Na fase Coca Cola todo o grupo tinha de ouvir a mesma coisa, deixar-se contagiar de forma universal.
E aqui o brand voice passou a assumir um peso social, de pertença e criação de tribo, quase como se fosse um hino.
Quem não sentisse a emoção de uma Coca Cola, como a música nos pedia, estava fora – e o pátio do liceu podia passar a ser um sítio agreste.
Depois veio a fase Nike, para tirar todos os medos de falhar e para contrariar todas as vezes que os nossos pais e professores nos disseram “não faças isso”.
O empowerment de um “Just do it” não precisa de uma música, não precisa de mais nada. Aqui cada palavra conta para nos atirar para a frente.
Um brand voice tão forte que parece que foi a primeira marca a acreditar em mim, mesmo antes de eu saber que acreditava nas marcas.
Hoje confesso que me é indiferente aquilo que os outros pensam sobre mim (e não sobre as marcas que crio) e, por isso, troquei o sentimento de pertença pelo do desafio – quero ouvir uma voz que me faça tremer por dentro, que me faça pensar se é isto que quero andar a fazer com a minha vida ou se aquilo que hoje (acho que) sei é suficiente para alguma coisa.
É a fase The Economist.
É esta capacidade de fazer sentir conforto, pertença, confiança ou desafio que me faz continuar a querer trabalhar em marcas. Do naming ao storytelling. Da música que fica no ouvido até à voz que nos entra na cabeça para mudar tudo aquilo em que acreditamos. E a minha voz é tão mais autêntica quanto menos minha ela é, porque muda a cada marca.


Olhando para trás, consigo ver que as vozes que me conquistavam foram mudando. E isso quer dizer que os conteúdos, a percepção de marca e o propósito que comecei a ver na comunicação também foram mudando. De criança a adulto. De estridente a grave.
O Boca Doce é o primeiro anúncio de que me lembro. A simplicidade da música e o avô e o neto mais felizes do mundo bastavam para que aquele fosse, definitivamente, o melhor pudim de todos.
Mais de 35 anos depois ainda sei a música de cor – tal como se estivesse com os meus irmãos, os três em fila no sofá, já de pijama, a cantar. Era a voz da alegria e do conforto de estar em família.
O tempo foi passando e a música mudando. Já não interessava só aquilo de que eu gostava mas também aquilo de que os outros gostavam.
Na fase Coca Cola todo o grupo tinha de ouvir a mesma coisa, deixar-se contagiar de forma universal.
E aqui o brand voice passou a assumir um peso social, de pertença e criação de tribo, quase como se fosse um hino.
Quem não sentisse a emoção de uma Coca Cola, como a música nos pedia, estava fora – e o pátio do liceu podia passar a ser um sítio agreste.
Depois veio a fase Nike, para tirar todos os medos de falhar e para contrariar todas as vezes que os nossos pais e professores nos disseram “não faças isso”.
O empowerment de um “Just do it” não precisa de uma música, não precisa de mais nada. Aqui cada palavra conta para nos atirar para a frente.
Um brand voice tão forte que parece que foi a primeira marca a acreditar em mim, mesmo antes de eu saber que acreditava nas marcas.
Hoje confesso que me é indiferente aquilo que os outros pensam sobre mim (e não sobre as marcas que crio) e, por isso, troquei o sentimento de pertença pelo do desafio – quero ouvir uma voz que me faça tremer por dentro, que me faça pensar se é isto que quero andar a fazer com a minha vida ou se aquilo que hoje (acho que) sei é suficiente para alguma coisa.
É a fase The Economist.
É esta capacidade de fazer sentir conforto, pertença, confiança ou desafio que me faz continuar a querer trabalhar em marcas. Do naming ao storytelling. Da música que fica no ouvido até à voz que nos entra na cabeça para mudar tudo aquilo em que acreditamos. E a minha voz é tão mais autêntica quanto menos minha ela é, porque muda a cada marca.